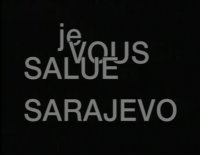No filme Last Days (2005), de Gus Van Sant, há um momento particularmente esclarecedor da inesperada e fascinante dicotomia que a relação verdade/artifício pode implicar. A certa altura,
 vai o filme em 45 minutos e 25 segundos, inicia-se um plano sobre uma janela da casa onde está a viver Blake (Michael Pitt). A câmara começa a deslocar-se lentamente para trás, perpendi-cularmente à parede. Blake está no interior a experimentar alguns instrumentos, primeiro as guitarras eléctricas, depois uma bateria. Temos a noção da sua actividade pelas deslocações e movimentos da sua figura, mas também pelos sons que vai acumulando e constroem uma espécie de canção improvisada — a câmara filma em continuidade, aumentando a distância em relação à origem dos sons que, em todo o caso, vão também aumentando de intensidade e complexidade. O plano termina quando o filme chega aos 50 minutos e 8 segundos.
vai o filme em 45 minutos e 25 segundos, inicia-se um plano sobre uma janela da casa onde está a viver Blake (Michael Pitt). A câmara começa a deslocar-se lentamente para trás, perpendi-cularmente à parede. Blake está no interior a experimentar alguns instrumentos, primeiro as guitarras eléctricas, depois uma bateria. Temos a noção da sua actividade pelas deslocações e movimentos da sua figura, mas também pelos sons que vai acumulando e constroem uma espécie de canção improvisada — a câmara filma em continuidade, aumentando a distância em relação à origem dos sons que, em todo o caso, vão também aumentando de intensidade e complexidade. O plano termina quando o filme chega aos 50 minutos e 8 segundos. Em boa verdade, aquilo que acontece é algo de eminentemente — e, apetece dizer: exclusivamente — cinematográfico: assistimos a uma pura duração (4 minutos e 43 segundos), quer dizer, a um tempo linear que se reproduz como tal na aliança vital da imagem e do som, da banda-imagem e da banda-som. O cinema é, então, em sentido físico e metafísico, uma ocupação do tempo. E o tempo, provavelmente, é sempre verdade.
Em boa verdade, aquilo que acontece é algo de eminentemente — e, apetece dizer: exclusivamente — cinematográfico: assistimos a uma pura duração (4 minutos e 43 segundos), quer dizer, a um tempo linear que se reproduz como tal na aliança vital da imagem e do som, da banda-imagem e da banda-som. O cinema é, então, em sentido físico e metafísico, uma ocupação do tempo. E o tempo, provavelmente, é sempre verdade.